Foto: Sabrina Stahelin
As raízes, as origens, as estruturas formativas do choro – e a ruptura disso. Um projeto florianopolitano, encabeçado por mulheres musicistas e produtoras, busca criar um ambiente diferenciado através de um movimento que une o rompimento das violências da tradição com o acolhimento da memória e da representatividade da mulher na música.
Por: Renan Bernardi
Atualizado pela última vez: 18/11/2025, às 11h12.
Já são quase 200 os anos que separam o nosso presente daquele momento onde, pela primeira vez, foi-se registrado o que seria – ou viria a ser – o gênero musical choro.
Considerado Patrimônio Cultural do Brasil desde 29/02/2024, por decisão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o choro se apresenta muito além de uma mera presença no Livro das Formas de Expressão do Instituto: está, há séculos, sendo tocado e discutido, pensado e repensado, em diversos pontos do Brasil, tendo um histórico longevo e particular em praticamente todas as capitais brasileiras – mesmo que nunca tenha se resumido a elas.
Os conjuntos de choro se chamarem regionais é algo que se deve justamente pela característica específica que cada grupo de músicos trazia para esse gênero musical, o que já demonstra sua abordagem mais como uma linguagem de música do que um estilo extremamente específico.
Surgido nas camadas populares do Rio de Janeiro, enquanto ainda capital do país, e se ramificando nesta coisa híbrida e plural que cada região brasileira trouxe, é contraditório perceber a condição do gênero-patrimônio nos dias de hoje. Percebido como “música de teatro” ou como a “música erudita brasileira”, a imagem que se tenta passar do choro é, hoje, cheia de apagamentos sobre aquilo que o formou e o definiu desde sua síntese: “é essa música do povo, é a música da festa, é do corpo que dança, do corpo que sua”, para usar as palavras de Natália Livramento, violonista, compositora e uma das fundadoras do Choro Mulheril.
Criado em Florianópolis/SC em 2022, o Choro Mulheril surge como uma roda para que mulheres praticassem, em público, o vasto repertório do gênero de maneira, ao mesmo tempo, requintada e pedagógica. Há três anos na programação dos sábados à tarde da Bugio do Centro [n.e: bar e casa de shows com dois endereços em Florianópolis], em um movimento natural, a ideia se espalhou em cursos de formação, festivais, mesas de debate, workshops e se torna, como vocês verão nas linhas abaixo, um caso de estudo interessantíssimo para se rever a história do choro, reavivar sua memória – dando luz principalmente às compositoras e musicistas mulheres – e romper com os dogmas que rodeiam a tradição da música brasileira. Mostrando que a cultura está sempre em movimento e que, seguindo esse fluxo, podemos deixar para trás os seus estereótipos, preconceitos e limitações, revelando então o seu cerne popular, recheado de beleza a ser compartilhada, mantendo assim o choro, centenário e patrimônio, ainda pautando os assuntos do presente e do futuro.
Para contar essa história e entender esses contextos, além de Natália, conversei também com Angela Coltri, flautista e compositora; e Caroline Cantelli, flautista e produtora: ambas também presentes neste movimento desde seu começo. E a conversa se deu mais ou menos assim:
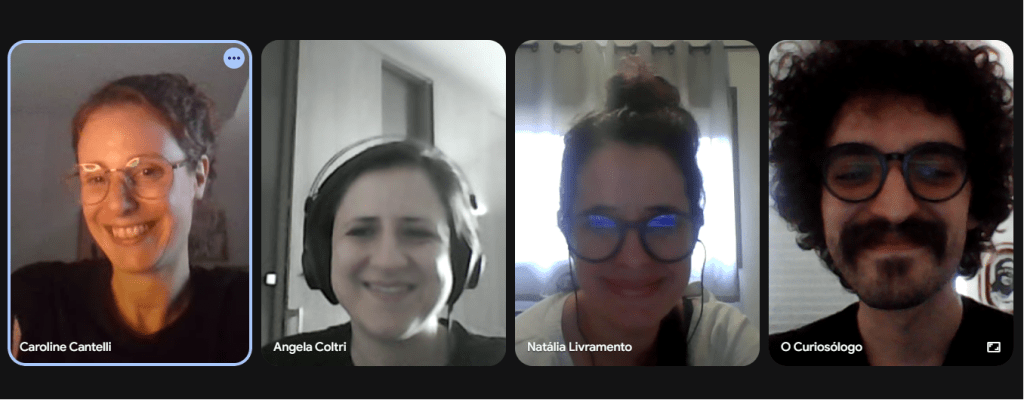
“Eu sempre falo assim quando as pessoas me fazem essa pergunta: teve uma conjunção astrológica, espiritual pra que o Choro Mulheril existisse”, é como Natália resolve começar a contar esta trajetória. “Eu já tinha uma trajetória profissional quando o Choro Mulheril começou, que foi em 2022. Já desde 2009 – entre 2008 e 2009 – eu comecei a me profissionalizar, comecei a trabalhar e, desde esse período, eu praticamente fui a única mulher do choro aqui [n.e: em Florianópolis]. Existia a Fernanda [n.e: Fernanda da Silveira, musicista que já tocou com nomes como Maurício Carrilho, Yamandu Costa, Nailor Proveta, Monarco, Nelson Sargento e Sombrinha], a Fernandinha é uma cavaquinista que, quando eu comecei, ela tava indo embora de Floripa. Ela era minha única referência, a única mulher ali que tocava com um regional, que era o Regional A Ginga do Mané. Mas ela sempre foi única ali, no choro e no samba, que ela também sempre tocou muito samba, né? Mas durante todo esse período, eu percebia que tinha coisas muito mais ligadas a parte do ensino. Da parte de quem tava profissionalmente trabalhando, era eu e mais algumas pessoas pontualmente.”
“Depois, ainda antes do Choro Mulheril, teve uma tentativa angariada ali pela Claudinha Barbosa, que é uma queridassa daqui, né? A Zininha [n.e: conhecida por este apelido por ser filha de Cláudio Alvim Barbosa, o Zininho, reconhecido compositor e comunicador florianopolitano]. Aí ela tentou também juntar a mulherada pra montar o Choro Catarina, e eu participei. Mas era isso: é uma coisa que tem vários atravessamentos, mas rolou ali durante alguns meses e depois o Choro Catarina também se desenvolveu. Mas não era uma proposta como é o Choro Mulheril, era uma proposta mais de apresentação e tal”, continua Natália.
“E o Choro Mulheril, como é que aconteceu: eu tava já há um tempo, pessoalmente, vivendo algumas frustrações por conta de ser uma mulher no meio de tantos homens durante muito tempo, já tava muito cansada porque, nesse paralelo, eu já tava também trabalhando com mulheres, né? A Tatiana Cobbett [n.e: bailarina, coreógrafa, produtora, compositora e cantora que viveu em Florianópolis do fim dos anos 90 até poucos anos atrás], que é uma referência, trabalhou anos aqui na Ilha e ela sempre foi uma pessoa de muita visão nesse sentido: de uma mulher empoderar outras mulheres. Ela foi fazendo isso e ela fez isso comigo. Então, desde 2016, 2015 ali, ela tava plantando essa semente, né? Então já tava tendo essa experiência e, cada vez mais, eu tinha essa experiência de trabalhar com mulheres e tinha uma frustração de me sentir mal e me sentir também estranha nesse lugar de estar também entre os homens – que eu nunca deixei de trabalhar com homens. Mas enfim: esse é um relato mais pessoal. O que de fato acontece: a partir de 2020, essa coisa da pandemia acho também deu uma borbulhada na galera, começou de muitas pessoas começarem a vir me procurar assim: ‘ô, Nati! Vamo reunir as mulheres pra tocar!’, mas era uma coisa informal. Então a Eva Figueredo [n.e: multinstrumentista, compositora e cantora residente em Florianópolis] me procurou e assim, pontualmente, algumas pessoas vieram me procurando. E, como eu tinha aquela experiência do Choro Catarina, de não ter dado certo, eu falava assim: ‘cara, eu não quero assumir um compromisso de ter um grupo! Eu não quero isso’, então, se for pra chamar uma mulherada pra gente se encontrar, contem comigo. E aí, a Eva – e aí começa a conjunção astrológica, né? – a Eva cria o grupo no WhatsApp, que é o grupo que a gente tem até hoje.”
Neste momento, Caroline agrega uma informação. “E que não tem nada a ver com choro o nome do grupo: o nome do grupo é Bonde das Maravilhas! E é assim até hoje!”, antes de Natália continuar contando a história:
“Então a Eva começou a fazer a feitiçaria ali e foi uma falando com a outra, que conhecia outra, não sei o quê, não sei o quê. A Angela eu já tinha conhecido, acho que a gente tinha se cruzado duas ou três vezes, mas também não tinha tido muita proximidade, e aí nesse período de criar o grupo e uma ir chamando a outra, o Chong – Rafael Chong, da Bugio – entrou em contato e falou: ‘Nati, tu não quer organizar uma roda de choro de mulheres? Porque a gente vai começar a servir feijoada ali na Bugio do Centro e a gente queria que tivesse uma roda de choro e pensamos numa roda de mulheres – tu não tá afim de organizar isso?’, aí eu falei: ‘ah..será?’ fiquei meio assim. Mas pensei: ‘bom, preciso ter alguém que vista a camisa comigo’ porque, na minha cabeça, eu ficava: ‘quem é que vai tocar choro?’ minha cabeça também muito limitada na época. Tem que contextualizar: naquela época eu era a única mulher e a Angela tava morando aqui há pouco tempo, eu não encontrava essas pessoas. Aí eu liguei pra Angela e a gente conversou bastante, ela super topou – e aí eu já posso passar a bola pra ela – e a gente decidiu só: ‘ah, vamo aproveitar que tem esse grupo que tá aí não faz um mês e vamo fazer uma chamada lá pra quem quiser aparecer’ e a gente fez isso. Aí a primeira roda aconteceu assim e, desde então, o Choro Mulheril – inclusive foi um nome dado pela Angela, né? Nasce de uma forma muito orgânica. Porque em nenhum momento a gente pensou em algo como regras, como tem que ser. Existe algumas coisinhas que funcionam ali porque tem que ter uma regrinha básica: rotatividade de cachê, enfim, etc, coisas básicas. Mas a parte de como é o choro, isso foi acontecendo a partir das pessoas que foram frequentando a roda.”
Conforme Natália disse, a bola da conversa passou então para Angela Coltri: “Eu lembro que a gente conversou umas duas, três vezes por bastante tempo no telefone, pensando no nome, pensando no repertório e preocupadas também, não sabíamos se ia colar gente. A gente conversou e falou: ‘precisa de alguém tocando pandeiro’, aí a Carol Miranda [n.e: percussionista natural de Florianópolis que já tocou em diversos projetos musicais] e montamos ali um repertório. Inclusive é até interessante lembrar que a gente nem conhecia tanto repertório das compositoras e isso já começou ali: tocamos Léa Freire – ensaiamos, né? Porque as músicas da Léa não têm exatamente a forma do choro, então fizemos ensaio, foi toda uma preparação. Fizemos essa primeira roda e aí foi uma galera por causa de todo esse contexto que a Nati contou, e ali já se reuniram as pessoas que foram levando o trabalho mais pra frente, né? No sentido de escrever os editais. A gente [já] chamou a Carol na época pra fazer a parte do Instagram, eu lembro que conversei com a Nati sobre isso: ‘a gente precisa de alguém!’. […] Porque é uma parte super importante, né? A gente já tinha uma trajetória aí de bastante tempo trabalhando com música e a gente sabe que é importantíssimo essa parte da comunicação. A parte artística não tem visibilidade sem isso, né? Aí já veio a Carol e veio a Valen [n.e: Valentina Bravo, flautista e produtora do Choro Mulheril] com a parte da escrita dos projetos, principalmente pra botar isso pra frente, ela tem bastante experiência com isso. E aí se formou esse núcleo duro de nós quatro sempre emanando ali. Mas, claro: sempre com total apoio! Tudo que a gente precisa, a gente sempre conta com a colaboração pra fazer rodas voluntárias, enfim, quebrar um galho, cobrir alguma coisa, fazer uma vaquinha, a gente tem uma equipe muito sólida, o bonde – o bonde que a Carol comentou.”
Aproveitando a citação, Caroline dá também a sua contribuição sobre esse período embrionário do projeto. “Tava justamente pensando que, do meu ponto de vista – porque elas são professoras pra mim, né? Mestras. Então elas podem falar do ponto de vista delas de como elas começaram a roda. Mas essa coisa que a Natália falou: tava todo mundo se encontrando, tinha muita mulher tocando na Ilha! É isso: a gente vê elas tocando, tem outros projetos rolando, depois veio o Filhas e Filhes de Eva [n.e: no Jardim das Delícias], que a gente ajudou a levantar também, agora ali tocando, a Skadaria, tem a Fanfarra [n.e: Fanfarra da Ponte] também, borbulhando mulheres, mas não era assim! A gente começou a se encontrar, eu comecei a conhecer outras mulheres que tocavam, mas não tavam no choro e queriam ir pro choro e não sabiam como se inserir. E a gente se falando: ‘ah, eu falei com a Natália não sei quê, não sei quê, não sei quê’ e tinha esse burburinho. Mas aquele grupo, quando a Eva reuniu todo mundo lá, eu acho que começou uma a encorajar a outra, e aí elas faziam esse negócio de ‘hoje vamos de grupo na roda de segunda’, é ou não é Nati? Aí elas se reuniam em sete: ‘vamos juntas, que aí a gente chega várias, senta na roda’. E acho que isso foi uma das coisas que animou o Chong a fazer esse convite.”
“Eu lembro dessas coisas acontecerem, de rolar uns chamamentos de irem juntas na roda. E eu não sei se foi numa dessas, nessas visualidades, que o Chong tenha percebido essa potência: obviamente, se fosse pra fazer uma roda de mulheres na Ilha, só poderia chamar a Natália pra realmente puxar isso, né? E, sob o ponto de vista de flautista, a gente já era tudo cachorrinha da Angela, né? Pra ti ter ideia, pra gente, elas eram – hoje elas continuam sendo, mas agora a gente é amiga, a gente é próxima -, mas na época era tipo ÓÓÓH! Eu tinha medo da Natália! A Angela, eu chorei na sarjeta quando eu errei uma música na frente dela na terceira roda, nesse nível assim de adoração! E aí foi muito lindo, porque a gente foi muito nesse orgulho de fazer parte, de ter um chamamento público pra gente fazer parte da roda, sabe? Então, a gente foi muito também corajosa, dando o peito, primeiras vezes tocando microfonadas. Eu e a Valentina estudava em casa uma filmando a outra, porque foi tanto sucesso que as pessoas vinham filmar a gente na nossa cara e a gente ficava nervosa pra tocar. Aí começamos a ensaiar em casa e uma filmava a outra pra aprender a não se distrair quando tivesse câmera.”
“E aí, eu acho que a Nati e a Angela, desde o início, trouxeram a vibe que tem a roda, que depois foi se construindo coletivamente. Elas já entregaram de início, porque é o que elas são e o que elas acreditam. Então, elas trouxeram esse primor, porque elas são musicistas de primeira qualidade, a gente tem o privilégio de ter duas mulheres – entre outras que tem na Ilha, né? Eu falo porque essas estão no escopo das minhas melhores amigas e colegas de trabalho, mas elas são um privilégio. Elas são compositoras, elas têm um trabalho que qualquer pessoa no Brasil que ouvir – ou fora do Brasil – vai dizer que é de excelência; elas são ótimas professoras, elas passam tudo o que elas sabem pra frente. Tanto que tem várias pessoas da roda que fazem aula particulares ou em grupo com elas, isso foi fomentando e crescendo mais ainda; e elas têm essa energia de trazer o negócio com acolhimento, elas conseguem equilibrar isso, sabe? A festa, a celebração – porque eu acho que a Roda de Choro Mulheril é festa, a gente tá realmente celebrando o protagonismo feminino e o choro de uma forma festiva – o estudo e a busca pela excelência sim, mas com acolhimento, com espaço, criando um espaço seguro pra gente ir.”

Essa energia, citada por Carol, que acolhe e leva junto outras mulheres para as rodas de choro e outros espaços da música e além, desestabiliza o padrão que o gênero musical tem trazido em suas manifestações mais recentes, rompendo com aqueles mesmos dogmas citados no começo do texto.
E esse rompimento não se dá pura e simplesmente: é resultado não só da energia empregada pelas fundadoras do Choro Mulheril, mas também da aplicação dessa energia para lutar pelo que acreditam e querem colocar em prática.
Em certa altura da conversa, o tema do “enfrentamento”, comum neste papo em aspectos de formação musical e cultural, mas também em nível social de gênero, se apresenta em suas diferentes dimensões, mostrando como este projeto tenciona e movimenta questões dentro e fora da música.
“Quando você vai fazer, por exemplo, um concurso pra tocar flauta numa orquestra, tem uma peça de confronto”, começa a explicar Angela. “Quando eu falo e uso essa palavra, é porque essa palavra é usada, você realmente enfrenta, né? Pra você tocar um choro, tem choro que você enfrenta! Porque é, tecnicamente, às vezes beirando o impossível. E realmente as pessoas vão nos lugares pra fazer isso, pra demonstrar habilidade. E é uma forma de um musicista, uma musicista, fazer contato, conseguir trabalhos. Isso as pessoas fazem, eu fiz, todos nós fazemos, é normal isso, faz parte – às vezes sem querer a gente faz isso, quando você tá informalmente tocando, alguém te vê e…né? Eu uso essa palavra porque é um confronto técnico mesmo. Eu estudei com o Toninho Carrasqueira [n.e: flautista e compositor de São Paulo/SP] e a gente tocava umas peças, sempre em grupos de flauta. E ele contava que o [n.e: compositor e músico alemão Georg Philipp] Telemann, que foi um compositor barroco que veio antes do [n.e: também compositor e músico alemão Johann Sebastian] Bach, que na verdade era ídolo do Bach – ele foi professor do rei da Prússia! E era, assim como ser espadachim, você ser flautista e tocar aquelas peças que ele compunha para ele: era um ato de braveza! É um enfrentamento, é difícil, é nesse sentido mesmo: de você demonstrar as suas virtudes, o tanto de tempo que você passou ali estudando cada detalhe técnico. O [n.e: clarinetista paulista Nailor] Proveta sempre falou do arqueiro-zen: que você mira! O importante é você visualizar a nota. São várias virtudes que envolve, né? Não é fácil, então essa palavra é usada mesmo, nesse sentido de você se colocar enquanto artista, musicista, instrumentista, compositora, compositor, sempre tem.”
“E eu acho que, o que pra mim salta, a grande diferença do Choro Mulheril pras outras rodas que eu, pelo menos, frequentei – a maioria, é claro que sempre existem e eu vivi outras exceções também – é essa postura de não-enfrentamento”, continua Angela. “Porque, numa roda de choro, normalmente, é uma música virtuosa, não é fácil tocar aquilo: haja dedo, haja técnica, haja respiração, haja memória – que tem que tocar décor! Então, acho até que a galera da roda, que começou a tocar ali na roda, não sabe como é que é esse outro jeito de viver esse enfrentamento, nessa vida social da música, que normalmente é assim, é sempre nesse sentido de você estar numa batalha. E a roda [Choro Mulheril] é ao contrário, né? Sempre encorajando. Então, desde o começo, as pessoas perguntavam: ‘pode ler partitura?’ Claro que pode ler partitura! ‘Ah, mas eu não sei tocar inteiro!’ Toca o que você sabe que a gente tá aqui pra tocar o resto! ‘Ah, mas eu só toco os choros mais lado A!’ Mas aqui é pra vocês tocarem o lado A! E a gente tá sempre aprendendo e curtindo – o objetivo é esse, essa é a grande diferença, né? E é isso! Normal. Tem rodas que o objetivo das pessoas é tocar o lado Z e é importante que exista isso, mas acho importante também que exista esse contexto em que as pessoas se sintam à vontade pra participar, mesmo não tendo essa casca que a gente cria, né? A música é isso: a gente que trabalha com música há alguns anos, a gente vai criando uma casca. As pessoas são irônicas, as pessoas às vezes se olham. É sempre uma avaliação, o artista tá sempre sendo avaliado, né? E eu acho que isso é uma coisa que faz a roda crescer – e crescer com pessoas interessadas! Porque, apesar dessa diferença, a gente é muito preocupada com o que a gente faz, a gente quer fazer bem feito, então a gente se preocupa muito com as informações que a gente passa, com o repertório que é tocado, enfim, com os detalhes musicais. Não é de qualquer jeito, não é qualquer coisa. Então, as pessoas que se aproximam, vêm com a ideia de aqui aprender, são realmente interessadas e se sentem à vontade: eu acho que esse é um fator importante.”
“Então, tem isso tudo que a Angela falou muito bem, e tem um enfrentamento que é social, sabe?”, diz Natália, puxando o assunto. “Porque assim: esse papo que às vezes o pessoal fala e é muito muito difundido – e eu tenho cada vez mais conexão de que isso tem a ver com o próprio comportamento machista – que é o ‘ah, vamo sentar e fazer um som’, como se isso tudo fosse resolver qualquer coisa, né? E não resolve. Quando você senta numa roda – e o choro por ser essa música que representa todas essas habilidades, como a Angela falou, virtuosidades – tem um lugar ali que é, por exemplo – isso já aconteceu comigo e com certeza aconteceu com todo mundo, e não só com mulheres, com homens também acontece -, mas é assim: você vai sentar numa roda de choro, geralmente a galera vai te botar ali numa fogueira! Numa roda que tenha homens, vão te botar numa fogueira pra espremer pra saber se realmente tu é bom, entendeu? Só que, assim, qual que é o benefício que isso traz pra pessoa? Tanto pra uma mulher, quanto para um homem. Se você tá com o negócio em cima, você pode realmente ir lá e tocar. Mas você pode se sentir intimidado, não conseguir tocar. Todo mundo passa por isso de ir pra uma fogueira. E a fogueira é: tocar a música que vai ter um monte de pegadinha, que vai ter um monte de casca de banana ali – e isso é um comportamento muito comum dentro do universo do choro. Como se fosse: ‘quero ver se você saber tocar mesmo!’, e esse tipo de mentalidade.”
“E a gente não tem como desassociar isso de uma perspectiva de gênero, porque isso tem uma leitura, tem que ser visto como uma leitura que é muito praticada entre os homens: que é o lugar da competição, de você se mostrar o tempo inteiro bom, ‘olha como eu sou bom’, né? Tem a ver com a virilidade, tem a ver com um monte de coisa desse lugar que forma essa ideia – não tô dizendo que isso é bom – mas essa ideia do que é ser homem e do que é ser macho. Por isso que a Angela fala: a gente cria as cascas também por isso. Quantas coisas eu tive que reprogramar na minha cabeça, na minha vida enquanto mulher – e eu já me considerava feminista pra caralho! – dentro do Choro Mulheril. Porque era isso: esse era o ambiente. E esse ambiente é horrível pra qualquer pessoa, pra qualquer pessoa, pra homem e pra mulher, mas para mulheres muito mais. Porque, fora a nossa roda e outras rodas que tem pelo Brasil, se você vai se sentar numa, a maioria ali são homens. Eu vou no Bugio Trindade ali toda segunda: toca comigo a Sol [n.e: Sol Scolaro, cantora, violonista e pandeirista de Florianópolis], que começou a tocar ali também por conta do Choro Mulheril e, eventualmente, algumas amigas que vão muito pontualmente, mas eu vivo outro polo – e assim foi minha vida toda até o Choro Mulheril. Então existe isso, esse enfrentamento também é no lugar do que aquela roda representa: ela é um pequeno retrato da sociedade, do que é a sociedade. E, às vezes, tem lugar que você vai que é num grau que você nem imagina! Isso vai acontecer de várias formas.”
“Então, no Choro Mulheril, a gente entendeu também que precisava criar isso que a Angela falou: um outro ambiente. Porque não adianta a pessoa sentar ali e achar que ela tem que mostrar tudo que ela sabe, porque isso é um negócio exaustivo, um negócio que adoece as pessoas. Mas não foi algo que a gente chegou e ‘ó: vamos fazer isso’, eu acho que, naturalmente, a gente foi fazendo isso porque nós vivemos isso enquanto duas instrumentistas, entendeu? E, ao mesmo tempo, tendo esse lugar que a Carol falou, de ser um exemplo ali, é porque também existe, tem que saber diferenciar: você tem que ter uma responsabilidade com essa música que você tá tocando, com essa tradição, com isso aqui é uma entidade – o choro atravessa três séculos, se tá aqui é porque tem que cuidar, né? – ter isso, mas não transformar isso numa forma de praticar algum tipo de violência física, psicológica, de gênero.”
“E aí, outra coisa também legal nesse sentido, porque na roda – fora o Choro Mulheril – você só senta se você sabe tocar. Se você não sabe tocar, você nem se atreva a entrar numa roda. Até se você é uma instrumentista, tem códigos, tem uma ética que rege. Em qualquer cultura popular, você tem um código de ética que você tem que saber – no choro é a mesma coisa. Só que tem essa questão do enfrentamento que é muito forte, mas isso não é uma coisa que tá posta, que todo mundo sabe, todo mundo enxerga. Não: são coisas que são naturalizadas porque tem a ver com comportamentos de machismo, muitas vezes de misoginia.”

Atravessando as questões de enfrentamento e chegando até o aspecto acolhedor e pedagógico que o Choro Mulheril cria para suas participantes, a fala de Natalia sintetiza bons pontos para se entender a importância sociopolítica que o projeto pratica em suas rodas, apresentações, festivais e outras ramificações.
Caroline, inspirada pela fala de Natália, aproveita para ressaltar ainda mais outro ponto importantíssimo da prática do Choro Mulheril: a festa. “Eu acho que, como a Nati falou, uma das coisas bacanas da Roda de Choro Mulheril é que ela também se tornou um espaço didático, né? E depois, como eu falei, da festa: um espaço onde as mulheres podem ser amigas e boêmias! Porque a história da música – bom, você participou do festival em algumas atividades, você já ouviu esse papo milhões de vezes – mas as mulheres tocavam piano! O piano era o instrumento domesticado, né? E que ajudava a manter as mulheres domesticadas. A flauta, tu põe na mochila, cara! Pode ir pra qualquer lugar. Então, além do espaço da visibilidade, do profissionalismo, também o espaço da boêmia, da amizade, da diversão entre as mulheres. Então, no Choro Mulheril, tu vive coisas como celebrar o aniversário de 77 anos da Sônia [n.e: Sônia Reichel, uma das integrantes mais assíduas da Roda de Choro Mulheril]! A Sônia tá em todas, gente! Tu vive coisas de ver uma musicista erudita se tornar uma musicista popular e começar a improvisar. E tu começa a ver pessoas que começaram a tocar pandeiro por causa da roda e hoje estão, sei lá, tocando em regionais porque focaram nisso. Então, tu consegue ver essas coisas desabrocharem, consegue viver essas coisas também. Consegue terminar a roda e sair dali e ter um grupo de amigas, não só colegas, né?”
Com esta fala da Caroline, é fácil perceber o quanto o choro passou a fazer parte do cotidiano de grande parte das participantes do projeto. E se por “cotidiano” possa se entender algo de banal ou trivial, as mulheres do Choro Mulheril apresentam para essa rotina uma ideia de movimento e expansão desde seus primórdios, como se quisessem rapidamente varrer a poeira metafórica de preconceitos que sujavam os seus salões de festa.
“Então, dessa primeira roda que a gente já falou e refalou aqui, tava todo mundo pilhado desde o momento zero – todo mundo pilhada, né?!”, conta a Carol. “E, cinco meses de roda, tá? Cinco meses! Já abriu um Anderle [n.e: Prêmio Elisabete Anderle, edital anual da Fundação Catarinense de Cultural (FCC)] e a gente já começou, todo mundo: ‘porque tem que ter um projeto, tem que ter uma formação’ foi meio ali que começou a se juntar esse núcleo duro. Porque, pra manter esse projeto, por mais que seja muito natural e fluído, tem muito trabalho no backstage. Muito! Porque, no momento em que a Natália me pediu pra fazer o insta e a gente começou a ter chamada de imprensa, ali eu já comecei a definir tom da marca, qual que ia ser o nosso release, como que a gente ia se portar em termos de comunicação. Se tem profissionalismo na música, tem muito profissionalismo na produção também, isso tu pode ter certeza: a gente não chegou a fazer um festival que é reconhecido hoje nacionalmente porque a gente faz de qualquer jeito, tem profissionais mesmo envolvidas, pensando branding, entendeu? “
“Então, ali a gente começou a formar esse núcleo, mas no primeiro projeto teve mais participação, a galera deu uma opinada do jeito que podia e aí aprovou, de primeira, a 1ª Formação Choro Mulheril, que foi uma formação de três meses que a Natália, a Angela e a Thayan [n.e: Martins Concórdia, musicista com atuação em Porto Alegre/RS em projetos como Grupo Três Marias e Trabalhos Espaciais Manuais], que é nosso puxadinho gaúcho. Porque a gente tem solista, harmônico, mas a gente não tem uma mestra no pandeiro aqui pra nos guiar. Então a gente importou a Thayan de Porto Alegre e foi uma formação de três meses, que rolava todos os sábados e formou mais de 70 mulheres e diversidades de gênero. E no final teve uma super apresentação ali na Bugio, teve um bandão de 70 mulheres tocando choro, teve pequenos regionais, foi super legal.”

Esse movimento rápido e cheio de êxito também é percebido por Natália ao comentar a transição do primeiro festival, ocorrido em 2024, para o segundo, que aconteceu em setembro de 2025. “A gente, do ano passado pra esse ano, deu saltos muito grandes, não só em coisas que a gente aprimorou internamente, enquanto produção, equipe que tava envolvida e profissionais trabalhando, mas fisicamente”, diz ela.
Nascida em Florianópolis e estudiosa de música desde a adolescência, Natália frequentou muito o Festival de Música de Itajaí, evento com mais de 20 edições na cidade portuária do litoral norte de Santa Catarina. “Quem ajudou a formatar o Festival de Itajaí foi o Roberto Gnatalli, que é sobrinho do Radamés Gnatalli [n.e: reconhecido compositor e arranjador gaúcho que trabalhou por muitos anos no Rio de Janeiro com grandes nomes da música brasileira de seu tempo] – que vem a ser a pessoa que fundou o Festival de Música de Curitiba“, nos conta ela. “E o Roberto Gnatalli é uma pessoa muito ligada ao choro, então o choro sempre esteve presente, desde o festival um. Sempre teve muita gente do Rio, de São Paulo, essa região mais do sudeste que, querendo ou não, fica muito com essa referência do choro.”
Dessa forma, era muito comum que músicos também de Florianópolis frequentassem os festivais de Itajaí para criar conexões com outros músicos e enriquecerem suas bagagens de música e repertório. “Era muito comum aqui, essa geração que temos hoje, por exemplo a geração hoje que tá lá em São Paulo: a Maiara Moraes [n.e: flautista e professora na Escola de Música do Parque Ibirapuera], a Maria Beraldo [n.e: multi instrumentista residente em São Paulo com circulação com o grupo Quartabê, em carreira solo e acompanhando artistas como Zélia Duncan e Arrigo Barnabé]! Que são referências, a Maria Beraldo hoje é uma super referência nacional, internacional. Toda essa galera novinha ia pra Itajaí, era a única coisa que tinha. Floripa nunca teve cuidado, carinho, sabe? Isso é uma coisa que depois a gente pode conversar com relação ao nosso próprio festival: de criar um espaço que seja fértil pra você pensar no futuro, porque você planta um negócio aqui e lá no futuro é que você vai colher esse fruto, né? Então, aqui de Floripa, eu posso falar todo mundo: Rafael Galcer, todos eles, o Fabrício [n.e: Gonçalves. Ele e Galcer, entre outros projetos, também fazem parte do Samba da Antonieta], o Rafael Calegari – que é um contrabaixista – todo mundo que foi do jazz, do choro, da música popular: todo mundo foi estudar em Itajaí. Então tem essa importância pra região, né? Não só pra Floripa aqui, mas pega ali: a região do Vale, a região Norte, propriamente Joinville, que é um pouquinho mais pra cima, então tem essa importância grande.”
A lembrança dessa sua experiência com o Festival de Itajaí se dá, como Natalia já introduz na sua fala, com aquilo de referência, mas também de diferença, que ele tem com os festivais produzidos pelo Choro Mulheril.
Continuando seu raciocínio de comparação das duas edições do evento delas, a relação com o festival itajaiense é explicada da seguinte forma por Natália: “Todo mundo que participou do primeiro ano e veio esse ano, falou: ‘nossa, vocês tão voando!’, mas pra mim fica forte essa coisa da relação com Itajaí porque, eu acho que, não só falando do choro em Floripa – eu sou uma pessoa nascida e me criei aqui, posso dizer que eu conheço as coisas porque eu também vivi isso muito forte, a relação familiar que eu tenho com a música – e eu vejo que aqui em Floripa é muito difícil a gente conseguir fazer, e isso qualquer profissional da cultura, né? É difícil você ter condições adequadas, dignidade no seu trabalho. E a parte de você criar um evento com propósito, que você se mantém com esse propósito firmemente – eu acho que Itajaí é a mesma coisa: vai ser, sei lá, a trigésima edição e todo ano é: ‘não vai ter festival!’ Mas aí tem o festival, entendeu? É assim, não muda. Mas acho que esse ano ficou muito forte nosso festival porque a gente teve uma dimensão do quanto isso ressoa fora daqui. Porque a gente fica aqui: ‘puts! Isso é legal pra caramba, a gente faz isso todo sábado’, não é uma coisa excepcional, que rola pra gente no festival, ele é o que a gente vivencia quase que semanalmente – só que numa potência catártica.”
“Eu tenho percebido que, do ano passado pra cá, como as meninas – não só meninas, tem homens também que participaram do festival – mas você vê que o festival já tá dando resultado, no sentido de ‘olha: ano passado fiz a oficina com a Umaytá [n.e: Larissa Umaytá, percussionista que participou da primeira edição do festival], aprendi isso aqui’ – que é uma pessoa que veio, uma instrumentista maravilhosa que veio no primeiro festival – aí, esse ano a pessoa teve aula com a Roberta Valente [n.e: pandeirista paulista e pesquisadora da história do choro] e a Roberta chegou e falou: ‘cara, que que eu vou dar aqui? vocês já tão tocando pra caramba!’, entendeu? Então tem uma coisa que eu vejo que as pessoas já tão vendo em duas edições. Mas é isso, como a Carol falou: fizemos uma formação. A gente tem essa preocupação de criar um solo fértil, entendeu? Porque isso aqui precisa ser alimento pras pessoas. E eu acho que, se a gente já consegue perceber isso agora, puts! Daqui a 10, 15, 20 anos? Mesmo que não tivesse o festival, acho que a Roda de Choro Mulheril já tem um legado, isso é um fato. Não precisa esperar 10 anos pra falar: ‘ah, temos um legado’, não: já temos, já existe, não precisamos aqui fazer uma falsa modéstia. Porque hoje, se a gente pegar o grupo do Bonde, a gente tem quase 80 pessoas ali dentro – e são realmente pessoas que frequentam a roda! Não são pessoas que ‘ah, eu vou uma vez’, essas que nunca mais voltaram a gente já tirou, limou do grupo. Então 80 pessoas que vão com frequência. Hoje, a quantidade de musicistas que tão com projetos paralelos à Roda de Choro Mulheril! Tem um regional das professoras da Universidade Federal! Um regional que se chama Academia do Choro. Puts, que coisa maravilhosa!”
“Eu acho que esse ano ficou muito forte porque as pessoas falavam: ‘cara, isso só tem aqui!’, mas esse ‘só tem aqui’ não é só de ter uma roda foda, alto astral, que as pessoas tão lá, como a Carol falou: dançando, rindo, se divertindo, tão celebrando – esse é o melhor ensinamento do Mulheril, né? Toca se divertindo! Ri, dança, usa o corpo, tem uma celebração ali -, mas aí, a gente foi até além disso, porque a gente olhou e falou: ‘cara, mas cadê a mulherada? Cadê as nossas heroínas? Por que elas nunca estão nesses festivais? Quando a gente vê aqui, elas não tão nos artistas confirmados’. Em Itajaí, agora, depois de 30 anos, tão começando a chamar professoras – olha só! Sempre era uma Paula Valente [n.e: saxofonista e flautista com formação em São Paulo], Paula Santoro [n.e: cantora e compositora mineira]. Mas, esse ano, já vieram mais mulheres – e a gente vai provocando. Ano passado, a gente fez show lá e falou. A gente deu uma palestra lá também, eu e Ange, um mês e pouco antes do festival, e falou: ‘ó, vamo começar a se mexer!’.”
“E é sempre as mulheres que já têm espaço, né?”, comenta Angela, que segue: “Isso é uma coisa que a gente conversou, nesta vinda da Aline Gonçalves [n.e: palestrante do 2º Festival Choro Mulheril, onde falou sobre a Escrita Musical de Mulheres Brasileiras (EMMA)], ela disse tem colegas que já falaram: ‘olha, eu não vou no teu festival porque eu já fui três vezes e tem outras musicistas pra você chamar. Não é possível! Eu vou te falar aqui: tem essa, tem essa, tem essa’, mas é impressionante! Realmente não tem ainda o espaço, a equidade tá muito distante, não tem nem 5% de mulheres tocando. Dando aula então! Você pega os festivais e vê. Inclusive, a Carol e a Valen estão pesquisando sobre isso, sobre a participação das mulheres nos festivais, e é isso: os números ainda são absurdos, 5% de participação. E eu acho que o festival, ele foi desde o começo, desde que a gente falou: ‘vamo fazer um festival?’, era um sonho, era uma coisa tipo aquela pergunta: ‘o que você realmente gostaria de fazer?’ Pra gente seria: a gente quer fazer um festival. E a gente achava que ninguém ia dar a mínima pra gente, que não iam aprovar nossos projetos e que não ia dar certo. E assim: foi aprovado em primeiro lugar o primeiro que a gente escreveu.”
“Enfim, esse ano a gente batalhou muito em relação a captação de recursos, não conseguindo ainda a captação que a gente gostaria nas vias de mecenato, a gente fez com muita dificuldade, com recursos de editais, que são muito pequenos pra esse tipo de produção. Então ainda é um trabalho de guerrilha, lutando contra o orçamento até o último minuto. Pra mim, tem duas coisas que me impressionam realmente: o quanto que, na nossa experiência, pra mim, eu ainda me choco de ver essas mulheres, essas professoras, essas musicistas. Uma coisa é você ver uma foto da Cordilheira dos Andes, outra coisa é você ir lá e olhar a Cordilheira de perto, você sentir a grandiosidade. A gente estar perto dessas mulheres me abalou muito, porque eu sei o tamanho delas, eu sou fã, eu sigo. Tanto que a gente falou: ‘vamo trazer essas mulheres’, porque, eu e a Nati fazendo essa curadoria, foi um ‘vamo trazer quem a gente admira, quem a gente curte o som’. Mas é isso: você curtir o som, você admirar, é uma coisa, você ver de perto a pessoa dar aula, você ver de perto a pessoa tocar, é arrebatador. Pra gente, é uma experiência arrebatadora. E você vê o quanto ainda é importante pra essas pessoas a nossa iniciativa! Dá pra gente ter um pouco a dimensão do absurdo que é esse cenário, da falta, é de sentir na pele mesmo, né? E ver o quanto que elas ficam também maravilhadas, impressionadas – e não tô exagerando, todos elas reverberam isso, essas convidadas que trouxeram pessoas, falando: ‘você tem que ir ver isso aí!’ Gente que vem de longe ver as participações no festival porque essas mestras falavam: ‘isso aqui é impressionante, você tem que ir lá ver’. A gente ganhou até uma música de presente da Daniela Spilmann! Ela fez uma música pra gente!”

“E eu acho que – pra mim, né? –, uma das grandes viradas de chave que o festival traz, que a roda também traz, mas o festival com uma potência atômica, é o repertório de compositoras”, acrescenta Caroline. “Tu sentar numa sala de aula, abrir uma apostila e descobri que existem muitas músicas de mulheres, desde Chiquinha Gonzaga [n.e: pianista e compositora pioneira entre as mulheres da música brasileira], passando por Tia Amélia [n.e: pianista e compositora pernambucana tida como “sucessora” de Chiquinha], pra tantas contemporâneas. E tu vê todo mundo tocando, tu vê essas músicas sendo tocadas na roda, fazer uma roda de choro com a presença dessas mulheres que a Angela falou, com o tamanho que elas têm, a gente tocando músicas autorais, músicas da Chiquinha, músicas da Tia Amélia, músicas de compositoras contemporâneas vivas que estavam assistindo via vídeo-chamada. Pra mim isso foi o ápice, ver um bandão apresentando só músicas de compositoras, pra mim é a cereja do bolo que completa lindamente esse propósito, né? A Jeanne de Castro, que é a biógrafa da Tia Amélia, veio ano passado – porque a gente tem esses presentes também, né? A Jeanne quis vir, a gente não tinha verba pra trazer ela, ela quis vir, ela veio por sua conta. Pra gente foi tipo: viramos sobrinhas de Tia Amélia master! A Jeanne trouxe a Tia Amélia pra gente e a gente abraçou a Tia Amélia pra vida, então pra mim foi uma coisa muito importante. A Léa Freire também veio porque quis! Sabe? Então a gente ainda é abençoada com essas coisas fantásticas assim que só o universo explica, né? A arte, a magia da arte, explica.”
“E como intérprete, instrumentista, eu fui criada, educada musicalmente tocando músicas de homens e não pensando sobre isso. Que nem a Natália falou: eu sempre me considerei feminista, mas quando tu começa ir além das coisas, tu tem que até revisar a tua própria conscientização sobre as coisas muitas vezes, né? E digo também, aqui pra elas, que pra mim é um enorme privilégio tocar as músicas da Nati e da Angela na roda, com elas vivas, eu acho que isso é histórico, sabe? E essa parte do encorajamento, né? A gente não tá encorajando só as instrumentistas, só as pessoas que querem começar, a gente também tá encorajando compositoras, arranjadoras, mulheres que passam por muitos momentos. A gente ouviu pessoas que a gente admira dizerem que tiveram momentos de olhar pro piano e pensar: ‘será que eu sou capaz?’. E isso não é só interno, subjetivo, não! Faz parte de uma opressão social, essa síndrome de impostora da mulher está em todos os campos, mas ali na música – e a gente tá dando essa ênfase porque é o nosso trabalho – ela existe por causa de uma misoginia, do patriarcado, do racismo, enfim, de várias questões sociais que fazem a gente se questionar tantas vezes sobre a nossa própria capacidade. E quando tu tá ali, na força do coletivo, tu acredita!”

Nos encaminhando para o final da conversa, perguntei a elas sobre as projeções de futuro para o Choro Mulheril, tanto como roda quanto como festival, e a resposta da Natalia mostrou uma grande vontade de continuar na toada que elas já vêm tendo – explicando isso novamente pelo viés sociopolítico desses projetos.
“Eu acho – eu penso, na verdade -, que o movimento tem que ser sempre no sentido de romper, sabe? […] Porque assim: às vezes parece que a gente fica colocando um dualismo, uma coisa assim: ‘vamos fazer uma apostila de mulheres!’, não é isso, é romper com todas essas opressões que nos fazem mal, que produzem violência simbólica, que produzem qualquer tipo de violência. Eu acho que esse é um caminho muito interessante, porque tem todas essas coisas que a gente falou: com relação a performar, com a Angela falou do embate, enfim, essas coisas todas. Mas tem lugares muito simbólicos, como por exemplo: conversamos eu e Angela – ainda nem falamos com as meninas – mas tem artistas que são cantoras de choro, por exemplo, mulheres intérpretes de choro. E essas mulheres não são vistas como choronas, até porque tem todo um estigma da cantora, que não é nem instrumentista, né? Talvez esse seja um aprimoramento que a gente precisa fazer pro próximo ano.”
“Esse ano, a gente proporcionou três encontros, vamos colocar: teve o filme de Léa [n.e: A Música Natureza de Léa Freire, exibido no primeiro dia do festival com direto a bate papo com a musicista e o diretor do filme, Lucas Weglinski, no final. O papo ainda rendeu uma entrevista exclusiva para O Curiosólogo: confira aqui], que a Carol falou, o documentário da Léa e do Lucas, que depois rolou um bate-papo maravilhoso ali; a gente teve, na quinta, o filme sobre a vida da Chiquinha Gonzaga, com a presença de duas intelectuais de renome! A Carolina Gonçalves Alves, hoje, talvez seja uma das maiores referências sobre a Chiquinha, tanto é que ela é uma das personagens principais desse filme, e a Lia Vainer, que é professora aqui da Universidade Federal [n.e: de Santa Catarina (UFSC)], que hoje é com certeza uma das principais intelectuais que está discutindo racialidade e branquitude da sociedade brasileira, tendo a nossa queridíssima e farol, Cida Bento, que é nossa referência. E a Lia Vainer sendo essa mulher, branca, trabalhando isso e trazendo isso. Só que a gente vê esses debates, essas discussões, acontecendo aonde? No âmbito acadêmico, nos grupos de pesquisa, que também se apartam um pouco da sociedade. É essa coisa que eu tava falando lá: ‘ah, vamo fazer um som’, isso é muito a forma como os homens lidam com a vida. ‘Eu não quero falar sobre minha parte emocional, afetiva’, tendeu? Quantos! Quantos!”
“Então eu acho que esse ano, o melhor ganho do festival – além de ter aprimorado em coisas da música ali, conseguimos um teatro maravilhoso, a produção foi maravilhosa, a apostila foi incrível, mas a gente entendeu que isso aqui é importante também pra gente avançar: discutir racialidade é muito importante, porque essa categoria opera na gente, principalmente nós pessoas brancas; discutir a questão que a Aline Gonçalves trouxe na palestra da EMMA: onde estão as mulheres dentro do mercado profissional da música? E aí você vê, olha só como a gente precisa avançar: o nosso público, ele é majoritariamente feminino. A gente precisa continuar insistindo, insistindo, porque tem uma cultura que precisa ser mudada, uma cultura não só musical, né?”
“Inclusive, foi esclarecedor realmente pra gente entender como essas macroestruturas: o racismo, o machismo, vão operar dentro dos preconceitos musicais”, disse Angela, pedindo a palavra. “Essa é uma coisa que eu sempre pesquiso, eu gosto de entender o porquê dos preconceitos, e é sempre história, é sempre um motivo político do passado, é sempre uma escolha, e a gente vira vítima disso, a gente fica repetindo discursos discriminatórios sem entender que as origens desses discursos discriminatórios estão dentro dessas estruturas que a gente combate. Então combater um tipo de preconceito musical: ‘esse estilo não!’, mas por quê? Por que é da periferia? Por que foi feito pelas pessoas negras? Qual que é o? A gente nunca chega nessa. E isso foi também muito interessante, é uma outra característica do Choro Mulheril: essa abrangência. A gente tem a Nati, que é uma pessoa que estuda profundamente as raízes, as origens, as estruturas formativas do choro, e eu sou uma pessoa que vivi muito dentro dessa cultura e estudo, pessoalmente, as rupturas disso, o momento histórico onde isso entrou e outros gêneros entraram dentro disso. E, na verdade, desde o começo sempre foi assim, a história é sempre isso, essa troca constante, na cultura não existe pureza. Mas é isso: o conceito de pureza é um conceito absolutamente discriminatório. Então, eu acho que uma coisa alimenta a outra: a escolha das convidadas que a gente faz, a gente traz pessoas de âmbitos diferentes, que vão trazer visões musicais diferentes, vão trazer contribuições, musicais mesmo, diferentes – e sem preconceitos! Essas palestras, esses diálogos, são absolutamente necessários para também alimentar e dar essa certeza do que a gente tá fazendo, entender que as discriminações têm todas a mesma origem, tudo se conversa se você for parar pra olhar em torno.”
“Tem muito a ver com aquela ideia que a Lia falou durante a palestra, que é a ideia da distinção“, retoma Natália: “O choro passou por esse processo de apagamento da sua negritude, da sua raiz musical negra, preta, brasileira, em detrimento dessa ideia de que o choro é essa música intelectual e, como a Lia fala: a cultura é essa categoria de racialidade operando na gente. Quer dizer: não tem intelectualidade dentro da musicalidade negra? Não tem conhecimento? Não tem técnica? Não tem primazia? O choro, quem estuda lá a história, como começou, o choro é uma música que vem das camadas populares. As pessoas que tocavam essas músicas eram pessoas negras, porque a gente tá falando de um contexto de país que era uma colônia escravocrata que, quando recebeu aqui a Corte Portuguesa, teve que reproduzir as festas, todos as pompas que essa elite exigia, e a música e a festa eram valores de distinção também. Mas eu tô falando tudo isso pra dizer que, quando a gente olha pra esse lugar de que o choro é isso também: é uma música de miscigenação. A gente sabe disso, mas o discurso que ficou e que tá, de mais ou menos a década de 80 pra cá, é que o choro é a música do teatro, é a música erudita brasileira. Não é! Não é, gente! O choro é essa música do povo, é a música da festa, é do corpo que dança, do corpo que sua. Onde aconteciam as rodas de choro? Na casa da Tia Ciata [n.e: musicista baiana que teve papel fundamental no surgimento do samba carioca no início do século XX]! No quintal, junto com o samba. ‘Ai! Era na sala!’, era na sala, mas era naquela casa! Onde se reuniam João da Baiana, Pixinguinha [n.e: músicos e compositores cariocas centrais na formação do choro e do samba do mesmo período], entende? Essa ideia de que o choro é essa música erudita – e claro que tem isso, a gente vai ouvir muito dessa influência da música europeia -, mas entende que até isso a gente erra na nossa formação? Porque a gente aprende isso! É um pensamento super colonizado da nossa parte. E a distinção, – que eu comecei falando e não terminei – a distinção entra nesse lugar, é nesse lugar que a Lia muito bem colocou pra gente: a categoria praticada pela branquitude de racializar o outro, é a partir da sua distinção, como ela usou, né? ‘Eu vou me distinguir disso aqui, como uma forma de separar minha arte, o que eu faço, disso que não é arte’.”
“Então eu acredito que a gente precisa combater cada vez mais esse tipo de pensamento, e aí vai entrar num lugar de que ‘ai, o choro é apenas o regional’, porra! O Hermeto Pascoal [n.e: músico e compositor alagoano reconhecido mundialmente] faleceu agora: a obra do Hermeto Pascoal é cheia de choro. O Tom Jobim [n.e: músico e compositor carioca tido como um dos fundadores da bossa nova] é reconhecido como um dos maiores compositores da música brasileira – se não talvez o maior, Villa Lobos [n.e: músico, compositor, maestro e orquestrador carioca do início do século XX], todos eles faziam choro. Mas aí as pessoas falavam ‘não, mas isso aqui não é choro’, como não? E, isso aí, deve ser pensado na contemporaneidade, né? Como que o choro vai? Por que que a gente não pode trazer um trabalho – que a Angela em breve vai lançar o trabalho autoral dela, que tem muita influência da música latino-americana, e é um trabalho de choro! Porque ela traz essas influências pra dentro do choro, vai dizer? Então até isso: esse lugar de distinguir o que é choro e o que não é, quem perde é todo mundo, em detrimento de uma ideia de pureza, entende? Que que é pureza? Eu acho que a gente tá vivendo e tá fazendo um negócio de rompimento mesmo, sabe? Assim: ‘vamo bagunçar pra reorganizar o negócio?’, só que a gente não tá fazendo a coisa bagunçada. ‘Vamo reformular uma outra fórmula? Isso aqui não tá rolando, isso aqui produz violência’ e violência simbólica, né gente? Quando você fala ‘isso aqui não é choro’, como aconteceu no show do quarteto [n.e: Chora – Mulheres na Roda, que tocou no terceiro dia do 2º Festival Choro Mulheril], em que a Laila [n.e: Aurore, integrante do Chora – Mulheres na Roda] falou: ‘essa música aqui foi a Geiza [n.e: Carvalho, também membra do grupo] que fez e ela quase desistiu de fazer a música porque ela foi mostrar pra um colega e ele disse que não era choro’. Isso é praticar uma violência simbólica, entendeu? Então essa ideia de distinguir o que é choro e o que não é, pra mim produz violência, produz sofrimento. Por que tem que ser? Ninguém toca choro como se tocava lá em 1870, quando o [n.e: “pai dos chorões”, compositor e flautista carioca Joaquim] Calado começou a tocar. As coisas vão andando, vão se atualizando, né?”

Andando e se atualizando, o Choro Mulheril segue conquistando, com muita velocidade, públicos cada vez maiores e mais renomados, se tornando uma referência nacional no tratamento da história do choro através do viés feminino.
Como bem lembrou Angela, nas alturas finais do papo, Camila Barros, que palestrou sobre o processo de patrimonialização do choro pelo Iphan durante a 2ª edição do Festival Choro Mulheril, foi perguntada sobre a questão da tradição. Algo como: “se ela vai se modificando e as rodas de choro vão fazendo diferente, daqui a pouco vai deixar de ser?”. Ao que Camila teria respondido: “a cultura é viva, ela já prevê a mudança. O que faz uma cultura existir é ter alguém ali fazendo.”
Continuar fazendo o choro que se entende, sem se balizar pelas definições do que o gênero é ou deixa de ser. “O que que é jazz hoje? O jazz ser tão imenso que ele é indefinível é ruim pro musicista de jazz? Não!”, conclui Angela.
É possível perceber que as forças que colocam o Choro Mulheril nesse êxito de melhoramento contínuo, agem em frentes diferentes, mas complementares: a do movimento, que coloca as questões musicais, pessoais e sociais para frente, renovando-as e buscando retirar as violências que a tradição acabou deixando como característica; e a da memória, a que documenta o próprio histórico de outras mulheres dentro desse mesmo movimento de “romper”, tão citado pela Natalia. Entendendo que a memória não age apenas como passado, mas como forte referência para se tocar adiante – o choro que já houve e aquele que hoje se ouve.



Deixe um comentário